Desde o duelo mortal entre o astronauta Dave Bowman e o computador
HAL-9000 no filme “2001” de Kubrick, o cinema não havia conseguido repetir uma
luta tão icônica entre a inteligência humana e a artificial. Isso até o filme
“Inifinity Chamber” (2016), na qual o homem enfrenta a nova geração da IA: os
aplicativos e algoritmos capazes de aprender até o ponto em que poderiam saber
mais sobre nós do que nós mesmos. Um homem é raptado em uma cafeteria, para
acordar em uma cela high tech observado por uma câmera de teto: é o olho
artificial de um computador chamado Howard. Sua função: mantê-lo vivo, para
escanear suas memórias e fazê-lo repetir mentalmente em infinitas vezes o mesmo
dia em que foi raptado, para tentar achar a evidência da sua ligação com um
grupo terrorista. Um filme sobre tecnologia, sonhos e memória. Uma metáfora de
como atuais aplicativos que fazem a mediação dos nossos relacionamentos são apenas
pretextos para escanear nossos sonhos e pensamentos.
Quando
o astronauta Dave Bowman travou uma batalha com o computador HAL-9000 (a
máquina estava decidida a matar toda a tripulação da nave Discovery) no seminal
2001: Uma Odisséia no Espaço,
interações humanas com computadores ainda estavam no reino da ficção
científica.
Meio
século depois os computadores e a inteligência artificial (IA) estão
intrinsecamente ligados às nossas vidas através de sistemas ativados por voz
como Siri, Cortana ou Alexa – solicitações de pesquisas, interação com os
amigos, comprar o ingresso de um show através de computadores ou telefones
celulares que, graças aos algoritmos, aprendem e parecem conhecer mais sobre
nós do que nós mesmos.
Décadas
depois, essa é a diferença decisiva entre as conversas entre Bowman e o HAL
9000 e as nossas com iphones e sistemas de comandos de voz: lá em 2001 a
relação entre homens e máquinas era extrínseca
(máquinas existiam para dar conta de funções repetitivas – às vezes até se
rebelavam e queriam matar o seu criador).
Hoje,
nossas relações com a IA são intrínsecas:
a inteligência algorítmica aprende conosco, quer se antecipar às nossas
escolhas e decisões. Em outras palavras, pretendem mapear nosso comportamento,
escanear nossas mentes e adivinhar nossos pensamentos. No passado, a IA queria
substituir o fator humano; na atualidade, quer simula-lo a tal ponto que as
fronteiras entre homem e sistemas digitais, realidade e simulação, desapareçam.
E o homem se encontre definitivamente imerso nas interfaces e bolhas virtuais
como, por exemplo, nas redes sociais.
Mas se
no passado o conflito entre homens e máquinas tinha a ver com alguma natureza
metafísica ou épica (máquinas adquirindo alma ou inteligência), aqui em nosso
presente os algoritmos aprendem sob o comando de interesses corporativos e
políticos – vide a denúncia sobre o vazamento dos perfis do Facebook pela
Cambridge Analytics para a campanha eleitoral de Donald Trump.
Uma metáfora sobre IA atual
O
filme Infinity Chamber (2016) é uma
instigante metáfora dessa nova fase da IA: um homem aparentemente foi preso e
colocado em uma futurista prisão totalmente automatizada, controlada por um
computador chamado Howard. Na verdade, uma unidade chamada LSU – Unidade de
Suporte de Vida.
Sua
função é aprender com o prisioneiro, entrar em sua mente, devassar suas
memórias para descobrir algum segredo que interessa a um governo totalitário
chamado ISN. Aquele homem é suspeito de fazer parte do grupo de oposição
chamado de Aliança e que pretende, de alguma forma, derrubar a rede informática
que mantém o sistema de dominação do Estado.
Infinity Chamber é um filme sobre
tecnologia, sonhos e memória que em muitos aspectos lembra os temas da série Black Mirror: a morte dos meios de
comunicação social para, em seu lugar, colocarem complexos aplicativos de
namoro ou relacionamentos que são apenas pretextos para escanear nossos sonhos
e pensamentos antes de se tornarem realidade.
Um thriller
como fosse um jogo de gato e rato no qual prisioneiro e IA tentam, cada qual,
entrar na mente do outro através de um complexo jogo de criação de falsas
memórias com objetivos opostos – para o protagonista, a fuga daquela prisão; e
para a LSU Howard, extrair o segredo da mente do prisioneiro.
O Filme
Tudo
começa quando Frank (Christopher Soren Kelly) está em um cafateria observando
algumas fotografias enquadradas em uma parede. Somos chamados a atenção para
uma luz vermelha, como algo que está escaneando todo aquele ambiente. De
repente, Frank é nocauteado por algum tipo de arma neutralizadora disparada por
dois homens.
Ele
acorda em um cela de prisão futurista e estéril – a única coisa que se aproxima
de alguma ideia de conforto é uma poltrona de veludo cinza. Superada a confusão
inicial, Frank começa a conversar com uma voz humana proveniente de uma câmera
de segurança de teto.
Frank
é informado que está sendo “processado” e que é suspeito de estar envolvido em
alguma trama terrorista high tech. Para o espectador, todo os contexto social e
político é informado de forma fragmentada através de detalhes nas cenas.
A voz
aparentemente humana chama-se Howard. Diz que o seu trabalho é apenas
supervisionar o prisioneiro e mantê-lo vivo. Frank protesta sua inocência, mas
a voz diz que não tem mais nenhuma informação para dar.
Frank
vai descobrindo mais detalhes: há uma estranha máquina no fundo da cela,
girando, e que de alguma forma está prospectando suas memórias de uma forma
insidiosa – Frank é obrigado a reviver infinitas vezes aquele dia em que foi
nocauteado na cafeteria. Parece que todo aquela prisão é um dispositivo para
encontrar alguma prova do seu crime nas suas memórias.
E
Howard é essencialmente um aplicativo comum de fala mansa que abra e fecha a
porta do banheiro e fornece para Frank café, sucos e alimentos, como fosse uma
máquina de venda automática.
Com o
tempo, Frank começa a compreender os mecanismos de funcionamento da cela, de
Howard (ele parece periodicamente ser reiniciado) e do loop das memórias. Assim
como Howard, Frank aprende com elas e tenta transformar as memórias em uma
espécie de sonho lúcido: começa a interagir com Gabby (Cassandra Clark) para
tentar alterar o curso dos acontecimentos que já ocorreram. Para dessa maneira
criar falsas memórias e enganar a máquina que monitora seus neurotransmissores
e os impulsos químicos que criam as memórias.
De
fato, Frank tem algum segredo a guardar. E parece ser relacionado a uma pen
drive que esporadicamente aparece em seu loops de memória.
Porém,
a situação fica ainda mais complexa quando percebemos o dispositivo de
monitorar as memórias (ou será o próprio Howard?) também é capaz de criar
falsos loops inspirados no maior desejo de Frank: escapar daquela cela.
Fica a
sensação que todo o aparato seria uma gigantesca máquina de interrogatório
automatizada e senciente: como no mundo real, Howard e a máquina de manipulação
de memórias fariam o papel do “bom policial” e do “mal policial”, personagens
clichês nos interrogatórios policiais. Um é pior do que o outro ou serão apenas
partes de um mesmo programa?
IA hipo-utópica
Infinity Chamber é mais um exemplo do
tom atual da ficção científica: a hipo-utopia – no sentido de “futuro
insuficiente”, no qual o futuro nada mais é do que uma projeção hiperbólica das
características atuais. Sobre as distinções entre os conceitos de utopia,
distopia e hipo-utopia, leia o artigo científico desse humilde blogueiro na
revista “Cosmos e Contexto” - clique aqui.
Há
metáforas do vazio por trás das nossas interações diárias com as máquinas, lembrando
muito o tema do filme Ela (Her, 2013, clique aqui) – a criação de ambiente
aparentemente agradáveis com vozes pré-gravadas. A frieza digital no lugar das
interações humanas.
A
América governada pelo sistema totalitário da ISN formado por uma rede de
máquinas (scanners, câmeras de vigilância etc.) representa o novo arquétipo do
século XXI: Frank somos nós aqui no presente – silenciosamente sondados por
aplicativos e pelos algoritmos dos motores de busca.
Infinity Chamber possui uma narrativa
ambígua e com um final aberto que sugere que, ao final, as falsas memórias de
Howard venceram e finalmente conseguiu localizar na mente de Frank o local onde
escondeu a pen drive com um poderoso vírus, capaz de derrubar toda a rede da
ISN.
Três leituras possíveis – Aviso de Spoilers à frente
Na
verdade, há três possíveis leitura para o destino de Frank: na primeira, para
espectadores mais otimistas, a segunda fuga foi verdadeira: desta vez ele
escapa por montanhas nevadas. Frank volta para o mundo real como um homem livre
e vai à procura de Gabby. Descobre que seu nome real é Madeline. Está feliz e
joga fora a pen drive que estava escondida por trás de uma fotografia na
parede. O governo totalitário da ISN caiu e ele não precisa mais do vírus
informático. Senta-se numa mesa como Madeline e vemos uma câmera de vigilância
de teto. É Howard ou apenas mais uma câmera de segurança? Tendemos a acreditar
na segunda opção para termos um final feliz.
A
segunda leitura é pessimista: na verdade a segunda fuga também foi uma falsa
memória e Howard estava vigilante no interior da mente de Frank: finalmente
descobre a localização da pen drive e prova o envolvimento de Frank com o
atentado terrorista da Aliança.
A
terceira leitura é niilista: Frank é um paciente ligado a uma Unidade de Suporte
de Vida, assim como o seu pai: Frank tem lembranças recorrentes do pai mantido
artificialmente vivo por anos em um hospital. Não há Aliança, ISN, células
terroristas, cela ou Howard. Frank é um homem moribundo que quer fazer um
acerto de contas com suas memórias e sentimentos de culpa. Nenhum evento do
filme é real. Tudo são devaneios da mente de um homem mantido artificialmente
vivo.
Dessa
maneira, Infinity Chamber tem um
evidente sabor gnóstico: além de borrar as fronteiras entre a ilusão e a
realidade, constrói uma narrativa ambígua e irônica. Que também borra a
fronteira entre aquilo que o espectador vê na tela e o seu significado real.
Ficha
Técnica
|
Título: Infinity Chamber
|
Diretor: Travis Milloy
|
Roteiro: Travis
Milloy
|
Elenco: Christopher
Soren Kelly, Cassandra Clark, Cajardo Lindsey
|
Produção: Latest
Trick Productions, Milloy Films
|
Distribuição: XLrator Media
|
Ano: 2016
|
País: EUA
|
Postagens Relacionadas |

 sábado, março 31, 2018
sábado, março 31, 2018
 Wilson Roberto Vieira Ferreira
Wilson Roberto Vieira Ferreira
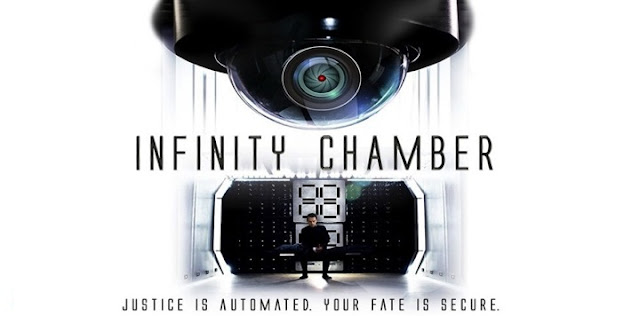





 Posted in:
Posted in: 



![Bombas Semióticas na Guerra Híbrida Brasileira (2013-2016): Por que aquilo deu nisso? por [Wilson Roberto Vieira Ferreira]](https://m.media-amazon.com/images/I/41OVdKuGcML.jpg)
















